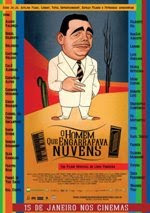Que o ser humano é o animal com maior capacidade de cometer atrocidades contra elementos da mesma espécie eu não tenho a menor dúvida. É um bicho capaz de torturar, escravizar, vingar-se e, mais do que tudo, sentir prazer com isso. Por essa razão é que eu sempre encaro expressões como humanidade ou humanismo, com uma visão muito mais negativa do que a maioria das pessoas tem.
A história está recheada de acontecimentos que atestam a capacidade que temos de cometer atrocidades contra nossos semelhantes, muitas vezes revestidas de legalidade, como a escravidão, impingida aos africanos após a descoberta do novo continente, 500 anos atrás, ou os métodos utilizados pelo Império Romano para controlar as populações das terras conquistadas.
Quando a coisa é antiga, nos é mais fácil ter uma perspectiva histórica. Quando é coisa relativamente nova, envolvendo pessoas do mesmo tempo que o nosso, aí fica um gosto amargo na boca, uma constatação de que somos mesmo capazes de atos e atitudes vis.
Dentre os eventos mais recentes, um que sempre me intrigou foi o nazismo. Custa-me entender como um povo, relativamente culto e educado, como o alemão do meio do século passado, pôde deixar-se envolver e conduzir ou, mais do que isso, ser condutor de um regime que culminou com o holocausto. Tentando entender como isso possa ter acontecido, procuro, constantemente, compreender a gênese do povo alemão. Procuro observar o alemão de hoje, aproveitando as oportunidades que tenho, com boa freqüência, de viajar para aquele país, já há mais de 15 anos. Confesso que as muitas observações que faço, mais me confundem do que trazem conclusões. Na verdade, conhecer o alemão de hoje pouco ajuda a entender o que aconteceu mais de 50 anos atrás. Mais elucidativo seria, talvez, conhecer o alemão de antes das guerras.
 Pois o filme A Fita Branca de Michael Haneke nos proporciona, exatamente, uma percepção de como era a população numa época anterior à primeira guerra mundial, retratando a vida numa pequena aldeia alemã. Estão lá presentes a rígida educação, baseada na disciplina, e o estímulo à delação, marcas incontestáveis do regime do Terceiro Reich. Mais forte do que tudo isso, há o olhar duro, sem doçura, das crianças. É inevitável perceber que serão aquelas crianças que, num futuro próximo, vão conduzir o regime nazista até onde ele chegou.
Pois o filme A Fita Branca de Michael Haneke nos proporciona, exatamente, uma percepção de como era a população numa época anterior à primeira guerra mundial, retratando a vida numa pequena aldeia alemã. Estão lá presentes a rígida educação, baseada na disciplina, e o estímulo à delação, marcas incontestáveis do regime do Terceiro Reich. Mais forte do que tudo isso, há o olhar duro, sem doçura, das crianças. É inevitável perceber que serão aquelas crianças que, num futuro próximo, vão conduzir o regime nazista até onde ele chegou.
O filme é lento, quase parado. Filmado em preto e branco, bem escuro, sua fotografia ajuda muito a mostrar o ambiente dentro do qual se formatou o regime que construiu nossa história mais recente e forjou o mundo em que vivemos hoje.
A história está recheada de acontecimentos que atestam a capacidade que temos de cometer atrocidades contra nossos semelhantes, muitas vezes revestidas de legalidade, como a escravidão, impingida aos africanos após a descoberta do novo continente, 500 anos atrás, ou os métodos utilizados pelo Império Romano para controlar as populações das terras conquistadas.
Quando a coisa é antiga, nos é mais fácil ter uma perspectiva histórica. Quando é coisa relativamente nova, envolvendo pessoas do mesmo tempo que o nosso, aí fica um gosto amargo na boca, uma constatação de que somos mesmo capazes de atos e atitudes vis.
Dentre os eventos mais recentes, um que sempre me intrigou foi o nazismo. Custa-me entender como um povo, relativamente culto e educado, como o alemão do meio do século passado, pôde deixar-se envolver e conduzir ou, mais do que isso, ser condutor de um regime que culminou com o holocausto. Tentando entender como isso possa ter acontecido, procuro, constantemente, compreender a gênese do povo alemão. Procuro observar o alemão de hoje, aproveitando as oportunidades que tenho, com boa freqüência, de viajar para aquele país, já há mais de 15 anos. Confesso que as muitas observações que faço, mais me confundem do que trazem conclusões. Na verdade, conhecer o alemão de hoje pouco ajuda a entender o que aconteceu mais de 50 anos atrás. Mais elucidativo seria, talvez, conhecer o alemão de antes das guerras.
 Pois o filme A Fita Branca de Michael Haneke nos proporciona, exatamente, uma percepção de como era a população numa época anterior à primeira guerra mundial, retratando a vida numa pequena aldeia alemã. Estão lá presentes a rígida educação, baseada na disciplina, e o estímulo à delação, marcas incontestáveis do regime do Terceiro Reich. Mais forte do que tudo isso, há o olhar duro, sem doçura, das crianças. É inevitável perceber que serão aquelas crianças que, num futuro próximo, vão conduzir o regime nazista até onde ele chegou.
Pois o filme A Fita Branca de Michael Haneke nos proporciona, exatamente, uma percepção de como era a população numa época anterior à primeira guerra mundial, retratando a vida numa pequena aldeia alemã. Estão lá presentes a rígida educação, baseada na disciplina, e o estímulo à delação, marcas incontestáveis do regime do Terceiro Reich. Mais forte do que tudo isso, há o olhar duro, sem doçura, das crianças. É inevitável perceber que serão aquelas crianças que, num futuro próximo, vão conduzir o regime nazista até onde ele chegou.O filme é lento, quase parado. Filmado em preto e branco, bem escuro, sua fotografia ajuda muito a mostrar o ambiente dentro do qual se formatou o regime que construiu nossa história mais recente e forjou o mundo em que vivemos hoje.


 O que mais me interessou no filme foi ver a vida sofrida na Europa do início do século XX, com sua elite desprezível e preconceituosa, sobretudo na França, a mesma coisa que já mostrou o filme Piaf – Um hino ao amor, do qual já falei por
O que mais me interessou no filme foi ver a vida sofrida na Europa do início do século XX, com sua elite desprezível e preconceituosa, sobretudo na França, a mesma coisa que já mostrou o filme Piaf – Um hino ao amor, do qual já falei por