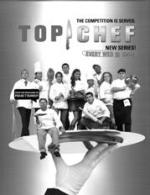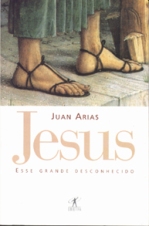Quando o Ademar e o Paulinho chegavam em casa, em horário pouco provável, todos sabíamos o que tinha acontecido. Alguém da família havia morrido. E vinham buscar o meu pai, que, com eles, formava o triunvirato funéreo. Sua incumbência era fazer com que o enterro acontecesse de forma apropriada. Eram tarefas singelas, como colocar a roupa no defunto, arrecadar dinheiro pra comprar um caixão, descobrir se alguém na família tinha um lugar pra enterrar o dito cujo, estas coisas. Mas a tarefa mais importante do grupo era garantir que o bar mais próximo do velório ficasse aberto a noite toda.
Os enterros da minha família seguiam um roteiro padrão. Os homens ficavam no bar, contando piadas e enaltecendo as qualidades (nem sempre elogiáveis) do defunto. As mulheres ficavam velando o corpo, em conversas sussurradas, falando mal de alguém que não estivesse presente, ou estivesse mais longe, do lado de dentro do caixão, por exemplo. E o tititi corria solto, até que alguma desmancha-prazeres, mais desavisada, tivesse a infeliz idéia de puxar um terço. Aí, não tinha saída. O segredo era ser bem rápida com as palavras pra terminar logo as contas e retomar as conversas.
Os meninos ficavam com um grupo ou com o outro, dependendo da faixa etária. Lembro-me da minha felicidade, no enterro do meu avô, dia em que mudei de grupo, livrando-me das rezadeiras e passando a ouvir as piadas que eu não entendia a metade. Mudei do chá pro guaraná, outra vantagem.
Há histórias hilariantes sobre enterros, a maioria delas não presenciadas por mim, apenas ouvi contar, possibilitando muita mentira, portanto.
O enterro do tio Zé foi no cú do mundo. O cara morava num casebre, praticamente, e o bar mais próximo era a léguas de distância. O jeito foi trazer a bebida para o velório, solução radical e só utilizada em casos extremos. Aquele era um caso extremo. Apesar disso, o velório transcorreu sem nenhum imprevisto. Problema foi mesmo na hora de seguir pro cemitério. A porta do casebre era mais estreita do que a largura do caixão, que entrara na casa vazio e de lado. Agora, evidentemente, ele estava cheio e não havia como passar. Nem pela porta, nem pela janela. Ninguém teve dúvida. Quebrou-se a parede e o féretro seguiu incontinente pro seu destino. A parede quebrada ficou de herança pra viúva.
O que nunca falta em um velório é gente disposta a ter chiliques. E uma tia minha, useira nesse comportamento, era a viúva num dado velório. Previa-se um chilique especial e a previsão confirmou-se. À beira do caixão, os soluços viraram gritos e, num momento de êxtase, ela pediu pro defunto levá-la junto com ele. A coisa tendia a fugir do controle quando o tio André (sempre ele) aproximou-se da viúva e sussurrando, sem ninguém mais ouvir, informou-a que o dito cujo tinha morrido numa cama, ao lado da outra, num momento mais que sublime. Como por encanto, os gritos calaram. O enterro seguiu tranqüilamente, mas ninguém entendeu porque as lágrimas secaram no rosto da viúva.
Houve uma ocasião em que surgiu um problema, aparentemente, insolúvel. O enterro seria num cemitério bem longe, pra onde não havia ônibus. Ninguém na família tinha carro. O tio André, então, contratou vários carros de praça (antigo nome dos táxis) pra levar a família toda pro cemitério. E assim foi resolvida a questão do transporte. Aquele foi o único enterro ao qual o tio André não compareceu. E até hoje, ninguém me contou quem pagou os táxis.
No velório da minha mãe ninguém conseguiu garantir um bar aberto a noite toda. Certamente, contribuiu pra isso, o fato do meu pai não estar com a cabeça voltada pra este problema prático. Não notei nenhum movimento estranho e não percebi se havia ação para trazer bebida pro local. O corpo iria ser velado a noite toda e eu estava meio cabreiro porque tentei convencer o povo a ir pra casa, voltando no dia seguinte, pela manhã. Afinal, aquele caixão não iria sair dali. Ninguém me ouviu. Eu fui dormir e convenci meu pai e minha irmã a fazerem o mesmo. E, na rebeldia dos meus vinte anos, avisei que se alguém desse chilique seria botado pra fora do local. No comecinho da manhã, um tio, completamente bêbado, esboçou algo parecido com um fricote e recebeu o devido cartão vermelho. Este incidente, pelo menos, me fez perceber que não houve falta de bebida naquela noite. Fiquei mais tranqüilo. Afinal, pra que serve uma família se não consegue manter suas tradições?