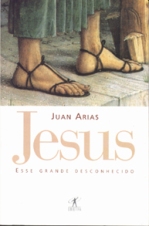A princípio, sou meio avesso às generalizações, do tipo; todo argentino é assim, todo alemão é assado. Ou então, de frases que começam assim: O problema é que o brasileiro é.... São frases proferidas por brasileiros, que, evidentemente, nunca se incluem no problema, superiores que se enxergam. Da mesma maneira, tendo a rejeitar generalizações discriminatórias a respeito de pretos, de veados, de nordestinos, de ricos, seja a discriminação negativa ou positiva.
No caso de homens e mulheres, entretanto, sou obrigado a concordar que existem características claras que nos diferenciem, embora insista em identificar a individualidade de cada um, seja homem, mulher, criança.
Mas indo direto ao texto, achei um tanto simplista a análise do meu amigo. Acho que as mulheres são mais bem resolvidas que nós, os homens, apesar de todas as aparências. As mulheres são mais maduras e menos covardes que nós, que tendemos a só mostrar valentia quando ela pode ser exercida fisicamente. As mulheres tendem a ser mais honestas e transparentes e por isso, essa sensação de que são menos fiéis às amigas do que os homens entre eles.
Os homens que têm vontade de cantar a mulher do amigo, se não fazem isso é por covardia e não por lealdade. É por terem, mais arraigada a idéia de dominação e posse da mulher amada do que as mulheres. E o fato de parecer que haja mais mulheres “roubando” namorado das amigas do que o inverso é porque elas tendem mais à transparência. Minha sensação é que a balança está bem equilibrada nesta questão. Os homens, quando fazem isso (e fazem), são mais cuidadosos. Têm mais facilidade em escamotear.
Mas a questão que eu quero abordar é outra. Acho que toda esta
 conversa acaba revelando o quanto lidamos com o amor de forma possessiva. E isso vale pra homens e mulheres. Penso de outra forma. E minha forma de pensar, sei bem disso, quase não encontra eco. Quase ninguém concorda comigo. Felizmente, quem mais me interessa, pensa de forma similar. Pois eu acho que o amor não deve ser possessivo e não o sendo, não é exclusivista. Acredito, sinceramente, que assim como se pode amar mais de um filho, mais de um irmão, amar vários amigos, é possível amar mais de um homem, mais de uma mulher, ou ambos. Amar de formas diferentes, com intensidades diversas, enfim, simplesmente amar, sem condicionamentos.
conversa acaba revelando o quanto lidamos com o amor de forma possessiva. E isso vale pra homens e mulheres. Penso de outra forma. E minha forma de pensar, sei bem disso, quase não encontra eco. Quase ninguém concorda comigo. Felizmente, quem mais me interessa, pensa de forma similar. Pois eu acho que o amor não deve ser possessivo e não o sendo, não é exclusivista. Acredito, sinceramente, que assim como se pode amar mais de um filho, mais de um irmão, amar vários amigos, é possível amar mais de um homem, mais de uma mulher, ou ambos. Amar de formas diferentes, com intensidades diversas, enfim, simplesmente amar, sem condicionamentos.Não estou falando só de sexo não. Restringir essa conversa a sexo é empobrecer o assunto. Estou falando de amar, mesmo. Gostar de estar com várias pessoas diferentes, não necessariamente ao mesmo tempo, querer compartilhar as sensações, sentir e matar as saudades, e, claro, fazer sexo. Amar uma pessoa é gostar de vê-la feliz, e, talvez, naquele momento, estar feliz não signifique estar ao nosso lado.
Sei, evidentemente, que essa forma de pensar não encontra adeptos tão facilmente e sei também, que não é uma coisa fácil de colocar em prática. Afinal, aprendemos, desde cedo, a amar de forma condicional. Amar sendo dono. Mas há tanta coisa em que a gente acredita e que não consegue ver colocada em prática. Tanta utopia. Esta é apenas mais uma. Pelo menos, a minha.